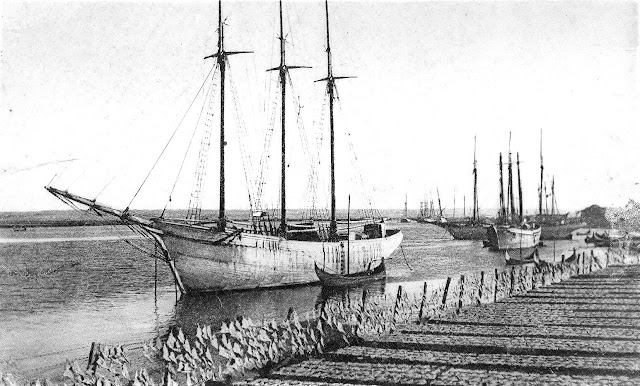OS MAIAS NA COSTA NOVA (2 excerto)
(::::)
Ora... ora, João da Ega, confesse lá: – esse afrancesamento das virtudes nacionais (menus incluídos), já vem de muito longe. E sempre deu bota. «Raia», dizemos nós por cá. Não é por ser bom. Treta nenhuma: é por ser chiquérrimo, consentido pelo livre cambismo aplicado à culinária, no caso.
Carlos gozava a cena. Estes remoques do jovial Graça, dirigidos ao Ega, Ega que considerava Paris e tudo quanto de lá vinha genial, supremo, incomparável, deviam ser um sapo vivo, difícil de engolir por Ega. Talvez por isso, o seu amigo se mostrasse hoje tão bebericão. Ilust. SARA BANDARRA
– E digo-lhe mais, Ega – continuava Graça: cá os de Aveiro, não temos monumentos como os Vossos lá por Lisboa. Os nossos «Jerónimos» são estas tascas como a do velho «Palhuça». E digo- lhe, meu caro: prepare-se... que ainda só vai dans les entrées. Prepare a vasilha, intercalando uma canja. Oh! uma canja; uma «chora» de cabeças de peixe, um verdadeiro monumento bíblico da arquitectura gastronómica. Verá...
Em grande algazarra, entrara um pequeno grupo de moços e moças. Grupo folgazão, falando alto num linguajar de troca de conso- antes e terminações fechadas. Linguajar sonoro, estridente, cheio de uma entoação cantarolada. Vozearias da beira-mar. Reconhecendo o Graça, logo foram apresentados aos lisboetas, como estudantes coimbrões com largos anos de tarimba estudantil. Em despreocupadas férias. E como de amigos brotam mais amigos, e o melhor sítio para os criar (e sustentar) é uma boa e bem recheada mesa, aceitaram o convite que lhes foi dirigido por Graça. Descontraidamente, pediram pratos e forquilhas, e dá de se atirarem ao conteúdo do caldeiro. Uma engraçada moça, de nome Etelvina, tez fina e ar azougado capaz de prender e até cativar o olhar, mostra-se mandona e imperativa, clamando para um dos empregados de serviço:
– Ó Dâmaso, traz-me lá para a mesa um «champorrion» bem aviado... Se o saber o que era tal beberragem levantou curiosidade, certo é que Ega e Carlos cruzaram um interrogativo olhar, onde perpassava a ideia, que nem longe, a figura do petulante Dâmaso parecia querer se afastar. De quem se julgavam por uns tempos afastados, em corpo e pensamento. E c’um raio (!): tal parecia erzipela contagiante; logo ali, iria aparecer um Dâmaso qualquer, encarnado num outro tipo da beira mar. O pior foi que, passado o momento da evocação, que pareceu logo afastar-se – apenas uma mera coincidência – ficaram patéticos quando, célere após o pedido, aparece na porta uma figura que dava inegáveis parecenças físicas com o fami- gerado Dâmaso, a figura pastosa dos salões lisboetas. Ali estava um criado de estalagem, com figura flácida, bochechudo, untuoso nos gestos, e no andar de passo curto.
– Oh amigo, diga-me cá, que estou suficientemente intrigado: Você tem algum aparentado lá por Lisboa? – pergunta o Ega intrigado, curioso e perplexo.
– Pois saiba vossa Senhoria, que parece, não tenho a certeza, que lá estará a trabalhar, não sei onde, um irmão que mal conheço: o Manuel Dâmaso «Salseda»?
– Oh... oh... valha-me o diabo encornado: explique-me lá o imbróglio da história? – titubeia o Ega, com ar ridiculamente espantado. Oh! Carlos, mon dieu, estás a ver o mesmo que os meus olhos vêm? – inquire virando-se para Carlos da Maia.
Este boquiaberto, como que assombrado por deparar com um lobishomem (lá que os hay... hay... estava ali a prova, provada), nem ousa abrir a boca.
– Pois a minha história será como tantas outras, diz o criado da estalagem. A minha mãe era a Maria «Sal-seda». A alcunha vinha da pele branca, rara por estas bandas, a lembrar o alvo do sal. De uma macieza de seda. Ora lá pela beira-mar, iam e vinham os almocreves, com os burricos a carregar o peixe. Volta que volta, enleio que enrodilha, o burriqueiro faz um filho à Ti Maria. Botam-lhe o nome de

Manel Dâmaso «Salseda». O burriqueiro ia e vinha, promessa atrás de promessa, cama sempre pronta a acolher a fome das desertas serranias, e, passados três anos, vê o dia este seu criado, que se chama João Dâmaso «Salseda». Pelo areal, no rapinanço das redes, e pelo abrigo dos palheiros, cumprimos a meninice de pobretanas. A minha Mãe a acudir-nos para, pelo menos, nos livrar da fome. Mas quis o destino, que uma doença rara no sangue, a levasse de um dia para o outro. O burriqueiro ainda apareceu mais tarde. Fez tratos com os meus tios, e levou com ele o meu irmão, Manel. Viram-no Vossas... Senhorias ?!; pois eu nunca mais lhe pus a vista em cima. Soubemos por um outro safardana serrano, que tinha dado o miúdo a uma velhota, lá para perto do Douro, velhota de quinta herdada, amoedada, piedosa, bemquista do Senhor. Disseram que teria mandado o Manel «a estudar», para Lisboa. Estudar é uma maneira chic de dizer. Talvez a arranjar mulher que o pusesse de casa e mesa.
– Esta agora... esta agora... balbuciava Carlos... ai Dâmaso, meu Damasosinho, volta a contar-me a história do Comendador de Cristo, do «chiquérrimo a valer», das torrentes de fêmeas balza- quianas que te lambem a bochecha, e com quem borregas a matar paixões extasiantes, que eu conto-te a tua história, filho de burri- queiro serrano.
(......)
– Então ó Graça, amanhã vais à Assembleia (?)... inquiria a azougada Etelvina. Não faltes! olha que a festa vai ser de arromba. A banda do João Pretinho promete um frenesim de se lhe tirar o chapéu. E chapéus, bonitos e singulares sombreros, vão aparecer sublinhando as carinhas mais «larocas» da região.
– Claro: então a festa não se fazia sem mim, minha rica menina. E fica desde já combinado: prometes-me um passo de dança, diz o Graça.
– Oh! meu amigo: uma ou duas. O carnet ainda não está cheio, e uma rapariga «abusacada», a apanhar um banho de assento, a ver os outros bailar, definha, tortura-se, amofina. Olha: leva aqui os Teus amigos, que há por lá boa pescaria.
– Quem sabe, quem sabe (?), adianta Ega, cofiando o farto bigode; porque bom peixe, pela amostra aqui presente, não faltará. Resta saber se vai ao anzol.
– Pois Sr. João da Ega: aqui não é o peixe que vai morder o anzol; é o anzol que que tem de se chegar ao peixe, carregado de engodo – responde sarcástica e insinuante, olhar atrevido, a azougada e bela Etelvina.
(C